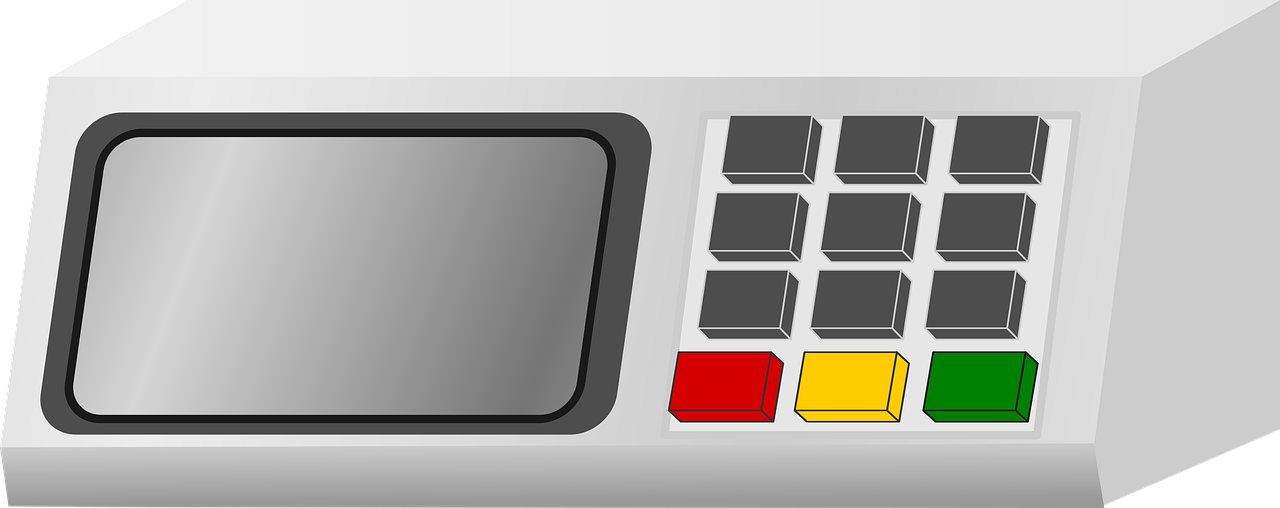
Vem de muito tempo o hábito dos políticos brasileiros de realizarem, às vésperas de cada período eleitoral, mudanças na legislação, as quais, em sua maior parte, atendem seus próprios interesses de continuísmo e de criação de obstáculos à renovação de quadros.
Pior ainda, quando essas alterações visam, tão somente, reforçar os caixas dos partidos e o bolso de seus dirigentes às custas do contribuinte. Vez ou outra, em raras ocasiões, surgem modificações que procuram aperfeiçoar, modernizar e democratizar o processo de escolha dos governantes e dos representantes dos cidadãos.
Fazem parte desse conjunto de boas ações o voto feminino, o voto dos analfabetos, as urnas eletrônicas e as cotas para candidatura de mulheres e negros. Esses avanços, ainda que tímidos, vivem sob constante ameaça de reacionários e retrógados, interessados em reviver os métodos e privilégios da República Velha e da ditadura militar. Têm saudades das eleições de bico de pena, das cédulas marcadas, dos senadores biônicos ou da infame Lei Falcão de 1976, entre outras aberrações da história brasileira em seus conturbados 133 anos de República.
Nesse conjunto de novidades anuais ou bianuais, chamam a atenção dois instrumentos que têm resistido ao tempo e à volúpia reformista de nossos legisladores: o segundo turno das eleições e a reeleição para os cargos de chefia do Poder Executivo.
É verdade, entretanto, que esses instrumentos não são assim tão antigos. O segundo turno para a eleição do Presidente da República, dos governadores dos estados e dos prefeitos de municípios com mais de 200 mil eleitores é obra da Constituição Federal de 1988, enquanto a reeleição resulta da Emenda Constitucional 16 de 04 de junho de 1997.
Decorridos mais de duas décadas de suas implantações, um tempo pródigo em realização de eleições, como nunca se viu em outro período da história brasileira, já é possível aferir os efeitos da reeleição e do segundo turno na vida dos cidadãos.
Adicionalmente, merecem análise os impactos desses instrumentos no resultado final das eleições e, por consequência, na qualidade dos escolhidos.
Vejo como positiva a possibilidade de reeleição dos prefeitos, governadores e do Presidente da República. Num mandato de quatro anos perde-se quase todo o primeiro ano na desconstrução dos males e dos bem-feitos da administração anterior, além do tempo necessário para adaptação e aprendizagem.
Da mesma forma, no último ano já não se pode contar com a simpatia e bajulação dos parlamentares, outrora aliados, necessárias para a aprovação dos projetos.
Esses já estão de olho em suas próprias reeleições e ávidos por juntarem-se ao novo círculo de poder. Restam dois anos para o pleno exercício do poder, prazo insuficiente para o atingimento das metas e objetivos realmente importantes
De negativo, no caso brasileiro, em que todos os presidentes, desde 1998, pleitearam e obtiveram a reeleição, nota-se um segundo mandato muito menos eficiente e bem-sucedido que o primeiro.
As crises econômicas enfrentadas por FHC a partir de 1997, o afrouxamento fiscal e moral de Lula a partir de 2005 e o desastre de Dilma a partir de 2014 podem servir de argumentos contrários à reeleição, porém não invalidam a possibilidade do contrário vir a ocorrer.
Um presidente já experimentado no exercício de sua função e desobrigado de acordos e alianças para a próxima eleição poderia voltar-se, efetivamente, para as grandes questões nacionais. Sonhar não custa nada.
Por sua vez, o segundo turno foi pensado como uma forma de trazer maior legitimidade e representatividade ao eleito, evitando assim eleições de presidentes, governadores e prefeitos com baixos percentuais de votação. E assim, tem sido feito. Ao final do segundo turno, o eleito tem pelo menos 50% mais um dos votos válidos.
Entretanto, o que se nota na prática, é que os votos adicionais do segundo turno, que permitiram ao vitorioso atingir o percentual legal nem sempre denotam adesão ou apoio ao programa e ao pensamento do futuro presidente.
No segundo turno, diante do estreitamento das opções e da derrota de seu candidato inicial, o eleitor brasileiro tem votado, sistematicamente, para impedir a eleição daquele com o qual são maiores suas divergências políticas ou ideológicas.
Permanece, portanto, a baixa representatividade do eleito, que se reflete, também, em sua reduzida base de apoio no Congresso. Para garantir a governabilidade, antes mesmo da posse, é preciso fazer concessões e acordos com políticos e partidos que, ao final, descaracterizam as propostas e metas do presidente eleito. Ninguém até hoje escapou dessa maldição.
Dessa forma, o segundo turno tem servido apenas para o encarecimento e radicalização das campanhas, assim como para a proliferação de candidatos no primeiro turno. Candidatos estes que se “venderão” a um preço muito mais caro que aquele de uma negociação prévia ao primeiro turno.
Melhor seria para o país que tais alianças, por meio de coligações ou federações, fossem apresentadas logo no início da campanha, reduzindo, assim, o número de candidatos àqueles com viabilidade eleitoral e mínima representatividade.
Em tempo: Juscelino foi eleito, em eleição de turno único, com 35% dos votos e conseguiu realizar quase integralmente o seu Plano de Metas. E alguém duvida que ele seria reeleito em 1960 se naquele tempo isso fosse permitido?
Agora parece irrelevante, mas isso teria evitado o golpe militar, os 10 anos de feroz ditadura, os 11 anos da “ditabranda” e, talvez, Bolsonaro estivesse hoje tocando um lojinha de armas de brinquedo no Vale do Ribeira. Sonhar não custa nada.
A opinião e as informações contidas neste artigo são responsabilidade do autor, não refletindo, necessariamente, a visão da SpaceMoney.








